Jorge Amado era um fenômeno, como poucos brasileiros conseguiram ser. Tinha o corpo fechado, para quem acredita nisso. Não se sabia se ele dava fé, comunista que foi a vida toda, nessas crendices afro-baianas da sua terra. No entanto, foi um homem, digamos assim, assassinado várias vezes — pela política, pela polícia, pela crítica literária —, mas que não estava marcado para morrer. Fecharam-lhe o corpo em algum momento e o condenaram à vida eterna, na qual ele ingressou no começo da noite de 6 de agosto, aos 88 anos, depois de um longo período de luta contra doenças variadas.
Uma parada cardiorrespiratória pôs um ponto-final no mais brasileiro de todos os escritores. Uma nota do seu obituário talvez registrasse, com ironia, que esse titã da alegria, cantor de peles morenas e de risada franca, foi também o autor do conto A morte e a morte de Quincas Berro d’Água — um personagem duas vezes defunto, no título. Só que Jorge era imortal, por título acadêmico e obra publicada. Construiu sua imortalidade em vida, mas nunca se acostumou com isso.
Costumava dizer, nos seus raros momentos de melancolia, que às vezes se achava mais entre mortos do que no convívio dos vivos, tantos foram seus amigos que já se tinham ido. Achava “conversa fiada” a crença de que muitas pessoas, como ele, mesmo com pontes de safena no coração, chegassem ao fim da linha sendo jovens de espírito. No entanto, essa é a crença que se professa e se vive piamente na sua terra, a Bahia de tantos amores e clamores. Jorge, acredite quem quiser, era um baiano frio. Chegava a ser quase cruel nos seus julgamentos sobre o mundo em que viveu — um vasto latifúndio planetário que o conduziu de Ilhéus a Salvador, de lá a São Paulo e Rio, Buenos Aires, Paris e Moscou, entre muitos outros. Não importava onde estivesse, nesse seu julgamento de pirata dos sete mares: “Acabou a juventude, acabou. Mas sempre vivi de frente. Recebi mais que pedi”, vivia dizendo.
A vida deu créditos enormes a ele, dos quais nunca se achou merecedor. São 39 livros, cerca de 21 milhões de exemplares vendidos no Brasil nos últimos 25 anos (sem que se saiba quantos mais foram antes disso) e tradução em 52 países, de A, de Albânia, a V, de Vietnã. Foram também filmes, novelas de televisão e homenagens sem fim, quase eternas e às vezes em duplicata. Dono de um prêmio Stálin de literatura (já existiu essa dúbia honraria), pediram-lhe que devolvesse a medalha quando ela mudou de nome para prêmio Lênin. Não a mandou de volta e recebeu a nova pelo correio. Tornou-se duas vezes comunista com atestado de medalhas que poderia pregar no peito, se as usasse. Não precisava delas. Era, acima de todas as honras stalinistas, leninistas ou neoliberais, um artista popular globalizado antes que essa palavra existisse. Ele descreveu um povo simples, quase rude, pobre mas heroico e valente, que formou uma galeria de damas perfumadas e cavalheiros de nomes pitorescos. Essa arte é anterior e posterior ao comunismo, como os comunistas sabem desde os tempos dos tsares ou talvez até de muito antes. Por isso, o povo não reverencia seus heróis em vão. Muito menos seus pares se esquecem deles.
É só lembrar um país tropical, capitalista e abençoado por Deus. Quando Jorge ingressou na imortalidade relativa da Academia Brasileira de Letras, em 1961, parecia que o próprio céu estava despejando suas criaturas na casa de Machado de Assis. Abriram-se alas para uma multidão de personagens, na saudação estridente e épica do escritor Raimundo Magalhães Júnior: “Vinde, senhoras! Vinde, senhores, onde quer que estejais! Padre José Pedro! Sinhô Badaró! Pedro Bala! Antônio Balduíno! Pereira! Zé Camarão! Joaquim Soares da Cunha ou, se preferis, Quincas Berro d’Água, conhecido em terras francesas como Quinquin la Flotte! Vinde, já que estais aqui! Vinde e cercai-o! O instante maior de sua glória é um reflexo da vossa maravilhosa eternidade!”.
Nada parecia mais justo para quem já era cidadão de inúmeros lugares e é nome de rua em outros tantos. Muito antes de ser imortal, e de ter colecionado medalhas e troféus num rosário de países, Jorge se tornara Obá Otun Arolu do Axé Opô Afonjá. Na hierarquia da umbanda, Obá é uma espécie de comendador; Otun Arolu é o nome africano escolhido pelo homenageado; Opô Afonjá é uma espécie de sobrenome, que indica a linhagem. Ao responder à impressionante saudação de Magalhães Júnior, o novo acadêmico lembrou estas suas titulações anteriores, afro-baianas. Eram seu orgulho maior. Disse que havia sido rebelde na juventude para se transformar em revolucionário na idade adulta. Naquela cerimônia esboçou-se, pela primeira vez, um movimento para indicá-lo ao prêmio Nobel.
As várias fases de tanto reconhecimento foram registradas, ao longo dos anos, em papel e tinta. Num só mês de 1972, setembro, Jorge lançou Tereza Batista cansada de guerra, história da dama de dentes de ouro e um colar de contas roxas, xale floreado sobre os cabelos negros, e seu nome foi então citado na imprensa cerca de trezentas vezes, quase dez por dia, número até então inatingível por presidentes da República, artistas ou atletas. Vários pintores retrataram seus bigodes e cabelos negros, e ao longo dos anos os fios foram ficando grisalhos também nas telas. Por dentro, garantiam os que o conheceram de perto, continuava igual. Mirabeau Sampaio, o amigo mais antigo de Jorge, médico, escultor e colecionador de imagens de santos do século XVII, além de personagem de Dona Flor com os pseudônimos de Zé Sampaio e Zequito, o Belo, dividiu com ele um banco de escola. E anotou: “Além de ser totalmente unilateral com os amigos, Jorge não mudou nada nestas décadas. Manteve o mesmo temperamento, a mesma vitalidade, o mesmo gosto pelas viagens, nem que fosse até Ilhéus”.
A nata das artes plásticas o reverenciou. Portinari, Pancetti, Flávio de Carvalho, os amigos baianos Jenner Augusto e Carlos Bastos, além de alguns vigorosos retratistas ligados ao realismo-socialista soviético, imortalizaram o rosto corado de Jorge. Mas ele escondia esses quadros, ao lado de outros trezentos que chegou a juntar no seu apartamento em Copacabana, no Rio, por superstição. Achava que retrato pintado trazia azar ao modelo. Na legendária casa de número 33 da rua Alagoinhas, no bairro de Rio Vermelho, em Salvador, conservava algumas obras desbotadas, presentes de amigos, ao lado de uma vistosa cerâmica assinada por Picasso. Não que gostasse de tudo que guardava. Simplesmente não queria se desfazer daquilo. “Sou apegado até a cartão de Natal”, contou.
A casa de Jorge, cercada de árvores, começou a ganhar forma em 1958, quando ele vendeu os direitos de Gabriela, cravo e canela para a Metro Goldwyn Mayer, e tornou-se atração turística na cidade, com ônibus de excursão parados na porta. Os trios elétricos sempre davam um jeito de passar por ali, infernizando a vida dos moradores. Vários livros de Jorge foram escritos no exterior, principalmente em Paris, no seu apartamento no Marais, onde se refugiava alguns meses por ano com a mulher, a escritora Zélia Gattai, antes que a idade e as doenças lhe roubassem essa disposição. Apesar dessa eventual inapetência, não podia reclamar da vida. E nunca reclamou.

© Carlos Scliar
Basta ver que a rica biografia dele pode ser farejada numa procissão de lugares, países, prêmios, conversas e prisões. O ano em que nasceu, 1912 (10 de agosto), em Ferradas, na Fazenda Auricídia, perto de Itabuna, mostrava uma paisagem empapada de sangue. O pai, João Amado de Faria, viera de Sergipe para desbravar terras que não eram de ninguém. Ele estava com Jorge no colo, com um ano de idade, quando foi baleado por jagunços e caiu ferido. Sua bisavó materna era índia e foi capturada no mato. Era a época em que o cultivo do cacau começava a substituir, às vezes com violência, o da cana-de-açúcar. A família — o pai, a mãe, Eulália Leal, e os filhos Jorge, Jofre e Joelson — foi procurar sossego em Ilhéus.
Aos 15 anos Jorge foi estudar em Salvador, tornou-se repórter do jornal Diário da Bahia e morador de um casarão arruinado onde ratos subiam pelas paredes. Teve vida social ativa e variada, unindo aspirantes a literatos a pescadores e prostitutas. Nessa idade teve também sua primeira doença venérea. O pai o socorreu, sem recriminá-lo. Dizia-se materialista. Mais tarde, em Tenda dos milagres (1969), lapidou esta crença juvenil na boca de Pedro Archanjo, um dos personagens de que mais gostava: “O materialismo não me limita”.
Era uma boa frase, mas estava longe de ser uma solução para aquele bando de jovens que ficavam olhando o mar na esperança de que o modernismo chegasse à tão eterna Bahia. “Nós combatíamos violentamente os escritores não modernistas, mesmo sem termos lido os modernistas”, comentou Jorge. O progresso finalmente desembarcou num navio de carga, em 1927, cinco anos depois da Semana de 22 em São Paulo, e então o ginasiano Jorge e sua turma puderam ler Os condenados, de Oswald de Andrade, Macunaíma, de Mário de Andrade, e poemas de Menotti del Picchia. Animado, ele conseguiu publicar no Rio uma novela, Lenita, aos 17 anos, apesar de um dos seus professores ter considerado o texto “pura abominação”. Daquela turma, só o folclorista Edson Carneiro e Jorge vingaram como escritores.
A estreia literária para valer foi parecida com a de tantos escritores: arrumou um padrinho. Foi seu colega na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, o depois romancista Octavio de Faria, que gostou dos originais de O país do Carnaval e levou-os ao poeta e editor Augusto Frederico Schmidt. Jorge ia todos os dias cobrar a impressão do livro, “num exercício de humilhação necessário”, e depois lembrou-se do editor como um homem gordo e afável, além de rico. Schmidt sofria com um apelido azedo que literatos pobres lhe deram, “poeta dos mercadinhos”, numa alusão malévola a um de seus negócios. “Não fiquei sabendo se ele chegou a ler o livro. Num dia estava no sétimo capítulo, no outro no sexto. Nunca disse nada”, lembrou Jorge.
A época era favorável ao que se chamou com algum exagero de nordestern literário. Jorge não foi o único a puxar o gatilho, mas o que chegou mais longe ao longo do tempo. Nos seis anos que delimitam a estreia dele, para a frente e para trás, foram disparados vários balaços da prosa nordestina, A bagaceira, de José Américo de Almeida (1928), e O quinze, de Rachel de Queiroz (1930). José Lins do Rego publicou Menino de engenho em 1932, Graciliano Ramos saiu com Caetés no ano seguinte, assim como Gilberto Freyre com Casa-grande e senzala. Mais para o sul estreavam Carlos Drummond de Andrade com Alguma poesia, Octavio de Faria com Maquiavel e o Brasil, Marques Rebelo com Oscarina, José Geraldo Vieira com A mulher que fugiu de Sodoma, Vinicius de Moraes com O caminho para a distância e Lúcio Cardoso com Maleita.
Diante da maioria desses nomes, as primeiras letras publicadas de Jorge já nasceram cheias de rugas, desde a abertura: “Entre o azul do céu e o verde do mar o navio ruma ao verde-amarelo pátrio. Três horas mais tarde. Ar parado. Calor”. Segue-se a história de Paulo Rigger, intelectual educado em Paris, que desembarca na Bahia com sua amante, a francesinha Julie. Ela se entrega no campo ao trabalhador Honório, “negro hercúleo”. Desiludido, Paulo despede o negro e larga a amante num hotel de Salvador, pegando um navio de volta para a Europa e deixando atrás de si o Rio de Janeiro no delírio dos dias de Carnaval.
Cinquenta anos depois, na festança de uma semana que mobilizou Salvador para comemorar o jubileu de O país do Carnaval, Jorge tinha um nó na garganta e os olhos molhados. Comia num botequim do Mercado Modelo, ao lado de Mario Vargas Llosa, que o entrevistava para a TV peruana, e ouvia cantadores que relembravam sua glória de escritor e patriota: “Em 37 seus livros/ Foram na praça queimados/ De Salvador, porque Jorge/ Com temas desassombrados/ Parecendo bomba atômica/ Das causas socioeconômicas/ Mostrava seus resultados”. Com a boca cheia de moqueca, no meio da zoeira, Jorge soltou uma reflexão: “Aos 18 anos a gente pensa que vai escrever o romance da sua geração. Minha experiência literária era praticamente nenhuma, embora tivesse uma história de vida popular muito intensa e viva na Bahia. O curioso é que não quis colocar essa experiência no livro. Preferi fazer uma subliteratura de garotos de 18 anos”.
Ele de certa forma renegava O país do Carnaval, mas não a homenagem. Saiu de lá sob aplausos enquanto Vargas Llosa dizia ao seu público peruano: “Sempre li Jorge Amado e segui sua carreira com interesse e admiração. Esta sua última etapa é de grande alegria, de grande vontade de viver”. A escritora Nélida Piñon, depois imortal presidente da Academia Brasileira de Letras e cujos textos não se parecem com os de Jorge nem nas vírgulas, tomava água mineral e balançava a cabeça, concordando com Llosa. Quando parou de balançar, empinou o nariz e condenou a “falsa sofisticação” de alguns críticos que menosprezam a obra de Jorge: “Ele é um pouco o nosso Górki. É um escritor culto, inteligente e no entanto intimamente ligado às camadas populares”. É bom receber elogios. E Jorge sabia disso, desde pequenininho. Não que precisasse deles, mas que seria bom seria.

@ Carlos Scliar
Só que o corpo a corpo de Jorge com a crítica, que se travaria pelos tempos afora, não existiu no momento da estreia, ante o espesso silêncio sobre O país do Carnaval. Mas ele foi escritor de sucesso já no segundo livro, Cacau, de 1933. Nesse ano casou-se com Matilde Garcia Rosa, em Estância, e com ela teve dois anos depois sua primeira filha, Lila, morta catorze anos depois, no Rio, de mal súbito. O pai não foi ao enterro porque vivia no exterior com sua segunda mulher, a paulista Zélia Gattai, depois também escritora de sucesso com Anarquistas, graças a Deus, entre outros títulos. Eles só se casaram no cartório em 1978, já avós. Tanto as remotas Matilde e Lila são brumas nos textos e memórias de Jorge.
O jovem escritor progredia usando uma técnica de reportagem feita nas regiões pobres, explorando anúncios para dramáticos efeitos de realismo. Suor, do ano seguinte, tinha pouco a ver com a Bahia pitoresca e morena. “Eu já tinha uma intenção política mais marcada e esse livro era ainda mais sectário que o anterior”, avalia Jorge. Num velho casarão da ladeira do Pelourinho amontoam-se mendigos, prostitutas e costureiras sonhando com um casamento digno para suas filhas. Entre mortes, suicídios e tragédias, o romancista fez desfilar idealistas e proletários, esfarrapados e patrões exploradores. Botou fé, alegria e sensualidade nos seus escritos, numa mistura de água benta e esperma, de suor e incensos pagãos, de misticismo e revolta.
Era sem dúvida uma literatura folclórico-proletária, que teve exemplos contundentes e bem-acabados em Jubiabá (1935), na sua raridade de mostrar um negro no papel principal, além disso cachaceiro e malandro que derrota um alemão numa luta de boxe em praça pública (Jorge se divertia lembrando que, no ano seguinte ao da publicação do livro, o negro americano Jesse Owens arrebatou uma medalha de ouro na Olimpíada de Berlim, no auge da ascensão nazista).
Essa postura foi registrada também em Terras do sem-fim (1943) e São Jorge dos Ilhéus. (1944). Por esses livros ou por falar muito, deliciando-se em contar casos e desfilar ideias, Jorge foi preso três vezes durante a ditadura do Estado Novo (1937-1945). Solto, foi morar em Buenos Aires, onde começou a se tornar internacional com a tradução de Cacau. Lá escreveu a biografia do líder comunista Luís Carlos Prestes, O Cavaleiro da Esperança. Depois viveu em São Paulo, dividindo um apartamento com Rubem Braga, casou-se com Zélia e no Rio sobreviveu em três profissões, as únicas que conhecia: escritor, funcionário de livraria e deputado, eleito pelo Partido Comunista. No Rio, conheceu Rachel de Queiroz. “Ela, sim, era comunista. Fomos a comícios juntos”, contou.
Cassado (como toda a bancada de parlamentares comunistas) e exilado na Europa e países socialistas, depois de 1948, Jorge ficou dez anos sem publicar nada. Teve dois filhos nesse período, o engenheiro João Jorge, hoje com 53 anos, e a psicóloga/escritora Paloma, de 50, que vivem em Salvador e lhe deram quatro netos. Já ganhara todos os prêmios literários importantes e sua volta ao mundo das letras, em 1958, foi espetacular, com os 200 mil exemplares vendidos de Gabriela, cravo e canela, depois transformada em novela e filme de enorme sucesso na pele de Sônia Braga. Gabriela, revolucionária por dentro e por fora, era generosa e linda. Traía o marido, o turco Nacib, e pagava o pecado — palavra ausente no seu vocabulário — levando surras. Mesmo achando certo apanhar de marido furioso, não entendia por que não podia ir para a cama com quem quisesse sem provocar tanto escândalo.
Foi um livro que deu o que falar, como tantos de Jorge, aqui e no exterior. Na França, a crítica exultou, notando que Gabriela era “um retrato da luta do povo contra o poder absoluto dos coronéis”. Lá se disse também que a magnífica farsa A morte e a morte de Quincas Berro d’Água (uma das duas novelas de Os pastores da noite, de 1964), sobre um funcionário público que vira vagabundo e prefere ser enterrado pelos amigos de farra a ser pelos parentes, era um “contundente ataque à instituição da família”. O New York Times, examinando Tenda dos milagres, classificou-o como “literatura picaresca”, a Der Spiegel como “literatura realista-fantástica” e a Gazeta de Moscou como “reflexo dos graves problemas sociais e da grandeza do homem do povo”.
O autor tinha uma opinião bem mais modesta sobre seu trabalho: “Sou incapaz de contar uma história. Quando vou para a máquina de escrever tenho na cabeça apenas os personagens, os ambientes e uma ou outra ideia”, disse. Mas Jorge era rápido no gatilho — Quincas Berro d’Água, por exemplo, foi escrito em 48 horas — e não relia seus originais. Também não os lia depois de impressos. Mas era veemente quando falava da própria obra: “Sou um romancista, não um crítico literário. Por isso não discuto jamais as opiniões da crítica sobre os meus livros. Só escrevo sobre o que sei ou vi. Todos os meus personagens nasceram da minha experiência, humana, são carne da minha carne, sangue do meu sangue”.

© Carlos Scliar
Quando alguém brincou dizendo que todos detestam os livros de Jorge Amado, exceto os leitores, fez uma boa piada, mas não disse toda a verdade. O professor Eduardo Assis Duarte, da Universidade de São Paulo, autor do livro Jorge Amado, romance em tempo de utopia, sustenta que ele foi discriminado por ser comunista e por ser best-seller (e nessa dupla condição vendeu mais de 10 milhões de exemplares na antiga URSS, apesar de alguns deles, considerados imorais, só terem sido liberados para publicação depois da morte de Stálin). Outro professor, o americano Mark J. Curran, da Universidade do Arizona, autor de Jorge Amado e a literatura de cordel, concorda: “Muitos professores americanos vacilaram em valorizar Jorge. Mas, para mim, o mérito dele foi ter dado valor a essa cultura popular e, com isso, tornar-se um escritor internacionalmente aceito”.
Uma das críticas mais contundentes ao “universo amadiano”, como gostam de dizer os especialistas literários, foi feita em 1976 pela professora Walnice Nogueira Galvão, num artigo ironicamente intitulado “Amado: respeitoso, respeitável”. Ela afirma que toda literatura best-seller é progressista, no pior sentido da palavra. “Entra ano, sai ano, aguarda-se mais um romance de JA, reiterando seu amaneiramento, apenas aguçando seus instrumentos para pior”, escreveu.
Seu saco de pancadas naquele momento era o romance Tereza Batista cansada de guerra, “ruim” desde o tamanho que considerou excessivo (462 páginas), “para engordar a conta do autor”. Tereza, prostituta, bonita, calorosa, acolhedora, generosa e mulata, é “uma notável produção do machismo latino-americano, a mulher ideal de todos os homens progressistas com dinheiro na carteira”. A senhora Walnice sustenta que Jorge superou profissionais do erotismo barato, como Adelaide Carraro e Cassandra Rios, através de sua obra “estereotipada” e da falsificação artística: “Não é mais pornografia, mas um salto à frente nas áreas escuras da perversão. Sadismo, em primeiro lugar, e mais pedofilia, voyeurismo e exibicionismo. Dez páginas relatam a noite de amor de Tereza com Daniel. Tal é o ideal estético de Jorge Amado”.
Mas, se fosse duelar com os críticos, o que jamais fez, Jorge encontraria muito menos adversários do que se possa imaginar. O venerável professor Antonio Candido já em 1945 escrevia que “o sr. Jorge Amado tem o estofo de um iluminado. Terras do sem-fim é um dos grandes romances contemporâneos”. O não menos respeitado Tristão de Athayde, em 1959, disse a propósito de Gabriela: “É um pináculo na novelística do autor, com intenso sopro que o percorre. Revela-se um autêntico poeta”. E o sempre admirado (e também temido) crítico Wilson Martins, em 1969, chamou Jorge de “primitivo literário”, explicando: “Sua vulgaridade é a vulgaridade de Homero ou de Shakespeare. Seus romances são semelhantes às feiras campestres dos pintores holandeses, impregnadas de bebidas e vitualhas, cheias de gestos obscenos e atitudes suspeitas, mas tudo estourando de vitalidade incontida e prazer de existir”.

© Carlos Scliar
Assim entronizado, além de crucificado, Jorge começou nos últimos anos a tomar remédios. O dia inteiro. Mas não foi nem pelo trono nem pela cruz. Era o peso da idade. Começou a nadar, pedalar, fazer fisioterapia. Isso foi em 1994, quando passou a ficar mais em casa do que longe dela, mas por precaução manteve o seu passaporte em dia. Poderia ir embora quando quisesse. “Aqui na Bahia não consigo fazer nada, sou invadido o tempo todo por todo mundo e, se não atendo, ainda me xingam”, reclamou. Não usou o passaporte.
Em vez de carimbá-lo mais uma vez, soltou outro livro, A descoberta da América pelos turcos. Com apenas 172 páginas, este último romance nasceu com uma tiragem sensacional — 100 mil exemplares — e pedaços dele estão agora na televisão, na novela Porto dos Milagres. Misteriosamente, ele classificou sua nova obra como “romancinho”. Talvez coisa de velho que não tem mais o que fazer na vida e usa as horas vagas — e elas são tantas, depois de uma certa idade — para não passar as tardes dormindo. Tudo bem, Jorge, satisfeito com o livro? — foi o que os curiosos queriam saber. Ele respondeu: “Não é pergunta que se faça a um autor, pois o autor que não fica satisfeito com o próprio livro é um tolo”. Andava com humor sombrio e não estava disposto a responder a perguntas.
Isso porque, em A descoberta da América pelos turcos, Jorge talvez defenda uma tese e ele detestava falar em tese. Mas achava, em tese, que houve uma injustiça histórica contra a “turcaiada”, na verdade os imigrantes sírios e libaneses que chegaram ao Brasil com papéis do Império Otomano, então dominado pelos turcos, a partir de 1903. Os “turcos” teriam chegado muito antes disso, conforme as anotações de bordo de Cristóvão Colombo, em que consta o nome de um certo Alonso Bichara. Depois, no começo do século passado evocado por Jorge, aparece Raduan Murad, fugitivo da Justiça de seu país por vadiagem e jogatina. Tinha cabeleira grisalha, usava impecáveis ternos brancos e provocava suspiros com seus dedos longos, que seguravam uma piteira de marfim. A “turcaiada” é descrita — ou então esse não seria um texto de Jorge Amado — em palavras tingidas com cores exuberantes. Jamil Bichara, “fogoso garanhão requisitado pelas mulheres-damas”. Adib Barud, “garçom lanzudo”, alto e musculoso, parecendo um dromedário, autor de um pensamento: “Tendo massa humana, nenhuma mulher é feia”.
Do outro lado do balcão dos negociantes aparecem Sálua e suas filhinhas graciosas, com nomes que evocam As mil e uma noites, tâmaras, peles perfumadas por óleos, figos e seios que têm cor e gosto de mel. São Jamile, Samira e Fárida. Mas também uma outra nem um pouco tocada pela graça, Adma, com um bigode espesso e “porte de tábua de engomar” (na televisão, a pérfida Adma aparece nos traços bem mais belos de Cássia Kiss). Todas são herdeiras do bazar O Barateiro. O destino delas, e deles também, é traçado pelas linhas da cupidez e da sensualidade. Assim se demonstra, em tom humorístico e sempre em tese, o que tantos homens sabem na vida prática — como certas mulheres não precisam ser lindas para serem irresistíveis.
O texto desse livro começou na Bahia e foi terminado no apartamento do Marais, em Paris, em 1991, mas apareceu impresso só três anos depois. Como de hábito, não foi relido pelo autor. Zélia, escrevendo num computador Toshiba, testemunhou em silêncio o trabalho do marido, sentado diante de uma máquina de escrever Olympia. Lembravam esse tempo com emoção. Eram felizes. Toda manhã o notável Obá Otun Arolu do Axé Opô Afonjá se transformava apenas em Monsieur Amado. Nesse disfarce, cumprimentava o porteiro, o barbeiro, o jornaleiro e algum vizinho. Tomava um café e até ia ao cinema. Como se estivesse na Bahia, com multidões a seus pés. O conforto eram o anonimato e o silêncio em volta, pois não havia ninguém a seus pés.
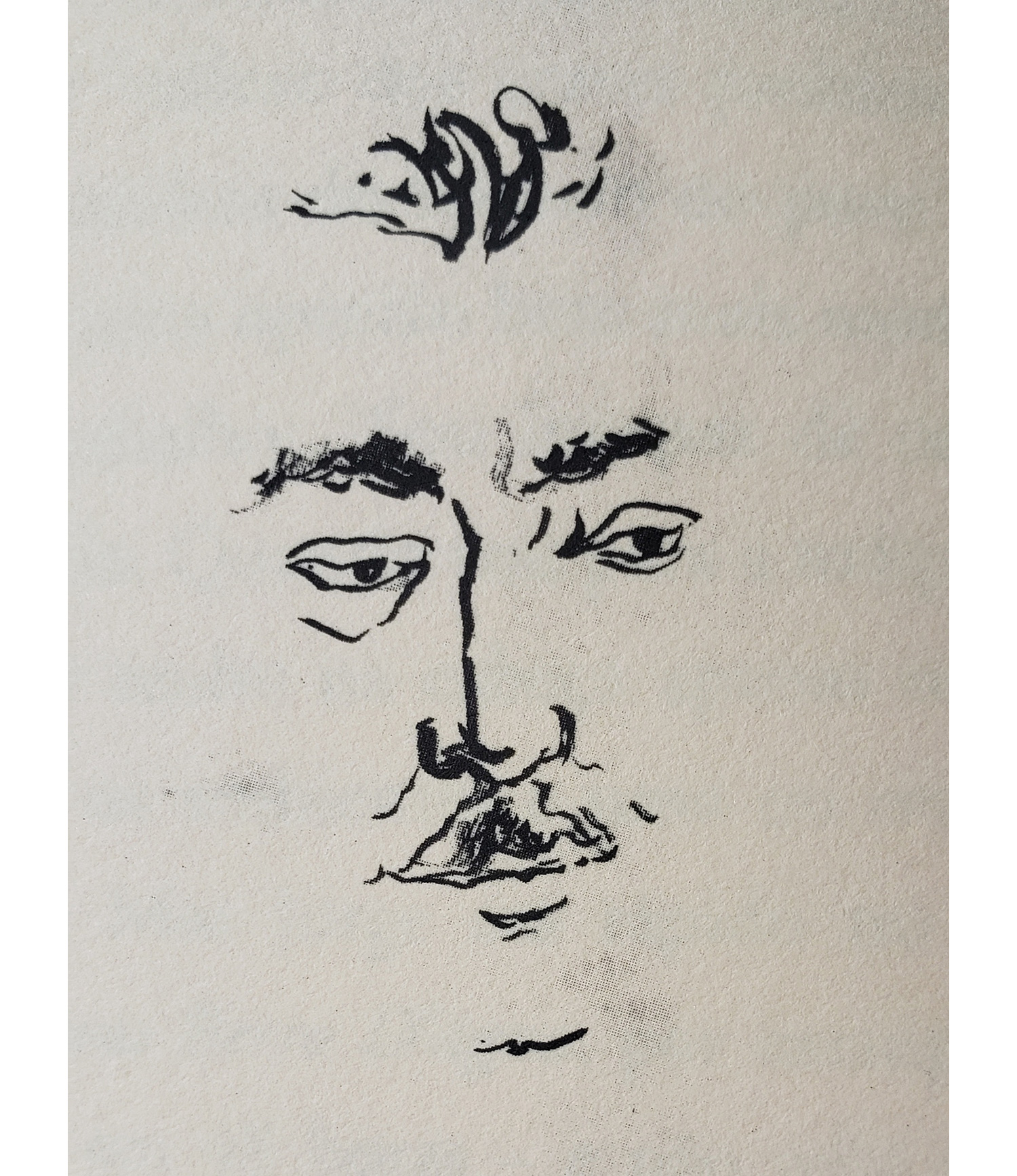
© Carlos Scliar
No começo de 1989, quando revisitou Moscou, cidade onde viveu embalado nas esperanças de um mundo melhor, Jorge Amado quase não acreditou no que viu e ouviu. Era como se nunca tivesse posto os pés lá. Tinha ido para receber mais um prêmio literário, talvez rever velhos camaradas, mas só lhe falavam de coisas ruins. Duas delas: a possibilidade de um golpe de Estado e a ameaça de uma guerra civil. Ficou tão desgostoso que teve um derrame na pálpebra do olho direito. Seu coração, safenado, “se confrangeu”. Não era para menos: “Já não tenho idade para compreender certas coisas. Aquilo tudo fez parte da minha vida”, comentou na volta ao Brasil. No fim de 1989 uma parte da vida de Jorge Amado ruiu e saiu da história, com o fim do império soviético.
Ele sentia saudade, mas com certeza nenhum remorso por ter gostado tanto daqueles velhos maus tempos. Tinha currículo, prisões por motivos políticos no Brasil e exatos 1.694 livros queimados em praça pública em Salvador, em 1937, segundo uma ata policial que os considerou “obras de propaganda comunista”. Em alguns casos, eram mesmo. “Nós tínhamos vergonha de não pertencer ao proletariado”, comentou anos depois Jorge, filho de fazendeiro. Também não tinha confiança de que a ação de seus livros desse ao leitor tudo aquilo que o autor queria, uma mensagem, e por isso os recheava de discursos, que mais tarde chamou de “excrecências”. Eram palavras de ordem, apelos. No fim da vida, dizia que só a idade ensina a ter senso de humor. E que este fere mais do que palavras de ordens.
Foi um aprendizado longo. Eleito deputado federal por São Paulo em 1945, pelo Partido Comunista, entregou-se inteiramente à militância. Dava seu salário ao partido e vivia de direitos autorais, muito bons já na época, pelo que se pode avaliar hoje. Foram 31 mil exemplares vendidos de um livro recém-liberado, O Cavaleiro da Esperança, biografia do líder comunista Luís Carlos Prestes. Ela foi escrita no calor da campanha pela anistia aos presos políticos da ditadura de Getúlio Vargas e vendeu mais que seus romances anteriores. Apesar disso, vivia devendo dinheiro aos seus editores.
Foram para o currículo do deputado leis que facilitavam a importação de papel para imprimir livros e da isenção de imposto de renda (esta só revogada em 1967, no governo do marechal Castello Branco) para escritores, jornalistas, artistas e professores. Foi também para a biografia do escritor quase uma década de vazio literário.
Cassado, Jorge partiu para um exílio europeu de três anos com a mulher, Zélia. Primeiro foi conhecer a parte burguesa do continente, a França. Depois, suas porções proletárias, e num passado já remoto também revolucionárias, a ex-Tchecoslováquia e a Rússia. Como se repetiria depois em 1989 em Moscou, ele teve surpresas desagradáveis nesses lugares. Em Paris, conheceu Michael Gold, escritor americano, autor de Judeus sem dinheiro, livro que admirava. Ficou desolado. Exatamente como ele, Gold abandonara a literatura para se dedicar às tarefas do partido. Pobre, quase mendigando, Gold tentou voltar a escrever, mas seus textos, mesmo pequenas notas para jornais, eram recusados. Jorge achou que ele simplesmente tinha “perdido a mão” para escrever. Foi quando temeu pelo seu próprio futuro.
Na ponte aérea Praga-Moscou teve novas contrariedades. O passageiro ao lado abriu a boca e disse coisas horríveis. Jorge lembrou: “Fiquei chocado quando ouvi pela primeira vez, de um escritor húngaro, histórias sobre tortura. Sabia que havia gente presa por discordar do partido, mas nunca imaginei que houvesse tortura num país socialista”. Ouviu calado, pois tinha tarefas a cumprir. Paciência. E era tarefa pesada. Para se ter uma ideia de quanto essa tarefa pesava, basta folhear O mundo da paz (1951), que teve cinco edições no Brasil, um processo contra o autor por subversão e todos os direitos autorais revertidos ao partido.
O juiz desconsiderou o processo sentenciando que o livro não era subversivo, mas apenas sectário, com a concordância do autor. E há anos o partido não recebe um centavo de direitos porque quem o escreveu não permite que seja reeditado. “Foi obra encomendada, tudo mudou, não tem sentido”, justificava. Pode ser consultado na seção de obras raras da Biblioteca Nacional, no Rio, e começa assim: “Sentir-me-hei honrado se este meu livro for útil na luta do povo brasileiro contra o imperialismo ianque. É uma homenagem ao camarada Stálin, nos seus 70 anos, sábio dirigente dos povos do mundo na luta da felicidade do homem sobre a terra”. Diz também, ao lado de um elogio à estabilidade dos aviões soviéticos, que o autor amava a URSS porque lá “não só existe a liberdade de crítica e de imprensa, como o exercício do direito de crítica é mesmo um dos princípios em que se funda aquela sociedade”.
Na volta ao Brasil, Jorge pagou pelo que escreveu. Disse, e depois desdisse, que o partido tinha opiniões “burras” em matéria de arte. Em nome da liberdade de expressão pediu as contas no partido, mas não lhe deram. Queria voltar a ser escritor enquanto o partido o preferia como militante. Saiu assim mesmo, e para a glória e desgosto. Quando Gabriela foi publicado, com sucesso estrondoso, os críticos ligados ao partidão — e eles eram muitos — mantiveram um silêncio condenatório. Jorge não guardou rancores de nenhum deles porque continuava se declarando a favor de um socialismo democrático. E também porque devia muito a “pessoas doces e queridas”, como Joaquim Câmara Ferreira, codinome “Velho”, alto líder comunista clandestino morto pela polícia de São Paulo em 1970, ou a “figuras admiráveis”, como Giocondo Dias, outro alto quadro do PC, morto em 1987 — de aneurisma. Conviveu com ambos, militando ou não, e com muitos outros, dentro e fora do país. Alguns serviram de inspiração para rechear de personagens os seus romances.
No fundo, Jorge sempre achou simples seu trabalho de escritor. “Sei contar histórias, mas sei muito mais de pessoas do que de teorias”, dizia. O último romance que esboçou, mas não escreveu, Boris, o Vermelho, tinha a cor do seu título emprestada não da militância. mas da miscigenação de raças, já que Boris seria um negro sarará. Passado no Brasil dos anos 1970, contaria a história do filho de uma lavadeira que trabalhou em casa de gente rica. Por isso, tinha modos tão elegantes quanto os dos frequentadores da corte dos tsares russos. Algo assim, mas não se pode garantir porque não foi para o papel.
Para espanto de muitos companheiros de estrada e de grades, Jorge Amado vivia repetindo, para qualquer um que lhe perguntasse: “Três fatos influíram sobre o romance do nosso século: o cinema, a psicanálise e a revolução de 1917 na Rússia. Mas nunca li essas brochuras sobre marxismo que os nossos marxistas porretas leram. Nunca li Marx. Sou muito ignorante”.

© Carlos Scliar
A abundante ficção de Jorge Amado, publicada e estudada em vários países, foi submetida a exames estatísticos que chegaram a conclusões surpreendentes. Eis algumas delas:
O baiano Paulo Tavares, funcionário público aposentado, escreveu O baiano Jorge Amado e sua obras, contando 7.334 páginas publicadas até 1979, ano do 27º dos 39 livros. Essas páginas estão povoadas por 3.750 personagens, 828 deles anônimas, mais 802 personalidades reais ou imaginárias espalhadas por 312 localidades nomeadas. E daí?
Daí que pelo menos um dos mitos que envolveram o escritor, o da sua verborragia, cai por terra. Ao biografar os personagens de Jorge, Tavares acabou comparando a cena de casamento de Capitu com Bentinho, no Dom Casmurro de Machado de Assis, com a de Gabriela e o turco Nacib em Gabriela, cravo e canela. Machado gastou 815 palavras na descrição da cerimônia, contra 793 de Jorge. A verdadeira surpresa, porém, é que Machado usou 10% dessas palavras como adjetivos, contra apenas 8% de Jorge.
O francês Jean Roche, doutor em letras e professor no Brasil entre 1945 e 1953, faz mais contas no seu livro Jorge bem/mal Amado. Essas contas mostram, por exemplo, que o escritor maduro de Tocaia Grande (1984) tinha um estilo mais espichado (17,2 palavras por frase) que o telegráfico (6,8 palavras) estreante de O país do Carnaval (1931). O professor examinou 19 romances e sorteou 53 páginas entre as 872 de Os subterrâneos da liberdade, totalizando a leitura de 2,087 milhões de palavras. Ele queria, entre outras coisas, esmiuçar com dados concretos outro dos mitos grudados na obra de Jorge, o de que ela conteria um excesso de propaganda política.
Foi atrás do que chamou de “palavras marcadas”, as que seriam principais para demonstrar a existência dessa propaganda. Entre estas listou as “palavras-bandeira” (as que os comunistas usam para identificar-se, como “comunista”, “partido”, “exploração”); as “palavras-etiqueta” (as que os outros usam para identificar os comunistas — as mesmas da classificação anterior, mais “comitê”, “célula”, “Prestes”, “Marx”); as “palavras-ação” (que incluem as modalidades de trabalho e a organização dos comunistas, como “greve”, “camarada”, “classe”); e por fim as “palavras-inimigo” (indicando os homens, as ideologias e as instituições que os comunistas enfrentam, como “polícia”, “imperialismo”, “banqueiro”).
As palavras “greve” e “polícia” são, de longe, as mais citadas (185 e 246 vezes respectivamente) nos livros estudados. Roche se diz “impressionado” com a escassez de “palavras marcadas” em relação ao vocabulário total. Nos dezenove, e incluindo-se a estimativa dos Os subterrâneos da liberdade, as 12.003 palavras marcadas representam dois centésimos (0,497%) do total do vocabulário. “Se excluirmos os Subterrâneos, livro claramente de propaganda política, essa porcentagem cai para 0,073%, sete vezes menos”, observa. Mais: se for excluído também Seara vermelha, livro fortemente engajado, nos dezessete romances seguintes só se atingiria 0,032% de palavras marcadas, ou seja, dois milésimos.
Mas Jorge seria, assim, tão pouco engajado? Roche conclui justamente o contrário “porque as estatísticas às vezes revelam tanto quanto encobrem”, escreveu. Como o assunto estudado por ele trata de ficção e arte, é o uso certeiro das palavras, e não seu gasto perdulário, que faz com que as obras informem ou emocionem os leitores. A conclusão do professor: “Embora raro, o vocabulário marcado demonstra sua eficiência, contribuindo sem dúvida para catalogar Jorge Amado como um romancista engajado, até mesmo comunista”.
Publicado como suplemento especial em A Revista, da gráfica Takano